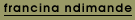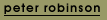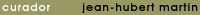O fato de esta Bienal ter sido planejada sob o signo da universalidade revela uma mudança. Durante longo tempo este evento teve como base um modelo europeu, com os olhos voltados para a arte européia e norte-americana. A globalização do planeta e a conseqüente diminuição das distâncias, fazendo com que a informação circulasse em uma velocidade jamais imaginada, trouxeram à tona indivíduos e grupos até então relegados a uma pré-história espacial. Parecia razoável imaginar que esses povos, habitantes de regiões tão remotas, estivessem relegados a um distanciamento não somente espacial mas também temporal. Mas eis que os representantes políticos e artístico-culturais dessas comunidades surgem diante de nós, em carne e osso, através da mídia. Hoje já não podemos ignorar os problemas das tribos amazonenses, dos zapatistas, dos maoris, dos canacas, dos esquimós etc... E não apenas suas lutas pela sobrevivência são transmitidas; elas levantam questões que põem em xeque nossas confortáveis certezas. Uma das questões mais sérias é a que informa aos meios intelectuais do Ocidente que o domínio econômico ocidental, o capitalismo e a industrialização condenaram para sempre as culturas vivas de outros continentes. Frente à expansão da civilização ocidental, alguns poucos traços culturais poderiam sobreviver por um curto período. Qualquer tentativa de promover ou valorizar essas culturas teria um caráter histórico ou nostálgico. Todas as cerimônias não passariam de produtos para o marketing turístico e as obras de arte seriam modelos reproduzidos incessantemente para serem vendidas nos aeroportos. É verdade que o mundo urbano impôs em todos os lugares um nivelamento e uma uniformização que podem parecer redibitórios a um observador desavisado. O pensamento, porém, trilha um caminho árduo. As crenças herdadas do meio social se transformam, evoluem e se metamorfoseam segundo padrões que nos inquietam ou que não queremos reconhecer, pois não correspondem à idéia que queremos ter dessas culturas. Les maîtres fous, de Jean Rouch, continua a ser, deste ponto de vista, um filme exemplar e inquietante. Hoje quem quiser abordar o universo da criação no mundo com a idéia de reencontrar uma pureza original, um paraíso perdido, está fadado às piores decepções. Interessar-se por objetos anteriores ao `contato´ (com os europeus, é óbvio), segundo classificação dos especialistas, na chamada arte primitiva, implica envolver a história e a arqueologia. Todos os artistas que podemos encontrar hoje já estão forçosamente em contato com a cultura ocidental. Qual seria a estranha lei que, de repente, condenaria esse artista ao vazio ou à inanidade? O resultado dessa condenação comprovaria que qualquer contato com o Ocidente corrompe e destrói. Teríamos uma idéia tão ruim de nossa cultura - boa para nós e até superior a outras, como sempre temos tendência a pensar, e nefasta e destrutiva quando em contato com outra cultura. O problema é em grande parte uma questão de ruptura, de capacidade de assimilação e da eventual violência que ela veicula. E aí também nossas imagens são muitas vezes falsas. Imaginamos tribos dizimadas quando existem comunidades que organizam suas próprias resistências culturais usando a arte como vetor de comunicação. O maior risco nesse ponto é a cômoda generalização quando optamos por uma ou outra direção. Mesmo mais próximo, o mundo continua grande. Existem inúmeras culturas e suas características são as mais variadas. Elas vão do trágico aos casos onde se permite alguma esperança. Aqui não é o lugar para enumerarmos os parâmetros em que se baseou a exposição Magiciens de la Terre, cuja intenção foi demonstrar a diversidade de criação existente no mundo. Com o alcance e a difusão dessa problemática, é interessante analisarmos hoje as diferentes posições dos `curadores´ em relação a essa questão. Como esses profissionais, que se dizem abertos à vanguarda e ao novo, reagem ao desafio que lhes é lançado? Poderíamos também questionar por que manifestam, em parte, tamanha resistência quando na música, no teatro e na literatura a curiosidade e a assimilação de obras oriundas de outras culturas ocorrem em escala muito mais ampla. O primeiro grupo de `curadores´ é aquele que acredita que não temos nada a fazer em relação à arte produzida por outras culturas. Para eles, a arte européia e norte-americana é uma entidade que possui história própria. Eles se baseiam na concepção hegeliana da arte. No passado, essa atividade estava sob o signo da religião, da qual tornou-se, depois, totalmente independente. Desde então a arte funciona como uma atividade independente baseada em parâmetros estéticos criados por ela própria. O papel do artista, único indivíduo com dons proféticos, é desenvolver novas formas capazes de veicular um pensamento cujo ritmo de metamorfose formal parece não ter parado de crescer ao longo do século XX. A sociedade ocidental agnóstica criou uma concepção de arte como um fenômeno independente. O processo de evolução nos últimos dois séculos tem sido difícil. Nele surgiram teorias estéticas muito sofisticadas, mesmo tendo rompido os cânones monolíticos do século XIX. Fora desse sistema de pensamento nada é possível. Quem pretender fazer arte deve se integrar a essa filosofia e impregnar-se dela. Caso contrário, falará em nome de outros sistemas de referência, em particular o religioso, e pertencerá, portanto, a outras categorias das ciências humanas: a etnologia ou a antropologia. Em geral, essa postura vem acompanhada de um reconhecimento da generosa atitude que defende as outras culturas, ao mesmo tempo em que afirma que ela equivocou-se no plano intelectual. O erro dessa postura é ignorar a enorme influência exercida pelas artes não-ocidentais sobre a arte moderna. Embora a tendência atual aceite que artistas como Picasso - mesmo considerando suas negações - tenham realmente adotado formas africanas. E mesmo se considerarmos que eles podem ter encontrado nas artes denominadas primitivas apenas uma confirmação de suas próprias pesquisas, o fato é que os cânones estéticos foram completamente modificados. Nesse processo, vários princípios que romperam com o dogma naturalista se validaram com a modernidade. Esse é o motivo pelo qual é muito difícil, senão impossível, estabelecer uma teoria da arte moderna. Os critérios seguem níveis diferentes. Temos de lidar com diversos níveis ou conjuntos de arquivos com os quais os artistas brincam a seu bel-prazer, confundindo e misturando os registros. Alguns desses níveis foram estabelecidos pelo impressionante impacto visual que as artes da África, da Oceania e da América exerceram sobre a arte moderna. O julgamento estético ocidental tornou-se eminentemente lúdico, passando de um registro a outro com uma espontânea tranqüilidade. Ele permitiu ainda a integração dessas outras artes ao museu imaginário mas, sobretudo, a assimilação de seus cânones e, conseqüentemente, também de seus critérios. Todavia, a recorrente questão dos critérios utilizados pelo Ocidente mostra-se parcialmente falsa. Por duas razões: se os critérios alheios forem os da fé religiosa ou das crenças mágicas, eles estarão sempre fora de nosso controle; se forem da ordem de uma comparação qualitativa, podem se unir aos nossos. Hoje, a atitude de se fixar na arte ocidental traz o inconveniente de aproximar-se do cinismo na medida em que ela aceita a apropriação das outras artes sem dar o crédito a seus autores. A arte denominada primitiva foi anônima por longo tempo porque o Ocidente, em nome do romantismo, não se interessou pela identidade de seus autores. Os historiadores da arte africana estão empenhados, com sucesso, em reparar o esquecimento. Se hoje tornou-se fácil encontrar um artista mesmo que ele viva numa região distante, por que continuar a se inspirar nos êxitos de sua cultura em vez de convidá-lo a fazer uma demonstração de sua arte? O segundo grupo de `curadores´, cada vez mais numeroso, é aquele consciente da nova situação mundial e que deseja ampliar o velho espectro da arte européia e norte-americana, integrando a ele artistas originários de países e de culturas cujo acesso era anteriormente muito difícil. A essência do problema, então, é saber até onde vai essa abertura. Quais são os limites, claros ou não, definidos por esses juízes? Muitos desses `curadores´ estão preparados para aceitar artistas não-ocidentais em suas exposições para mostrarem que compreenderam, pelo menos parcialmente, o funcionamento do mundo da arte e que, conseqüentemente, fazem parte dele. Ou seja, eles precisam saber jogar. Entre os grandes eventos, a Biennale di Venezia de 1993 mostrou-se preocupada com uma abertura nesse sentido, mas ao mesmo tempo deixou claro que os artistas não deveriam pertencer à categoria tradicional. A ironia quis que na exposição Aperto muitos caixões criados pelo artista Kane Kwei, de Gana, fossem apresentados. Porém esse artista da marcenaria inventou esses caixões históricos e narrativos para simbolizar a essência do morto. Ninguém duvida que ele foi um criador. As etiquetas que identificavam seus trabalhos traziam a inscrição: `caixão tradicional´. Enquanto que essa suposta tradição, está se ampliando e perpetuando, teve início em 1951 com as peças de Kane Kwei. A vida dos estereótipos, portanto, também é dura. A idéia de uma criação africana contemporânea ainda está longe de ser aceita. Outros explicam de um modo mais filosófico que somente artistas que pertencem a uma cultura cuja religião seja monoteísta podem estabelecer um diálogo em uma exposição. Todos aqueles provenientes de outras regiões não poderiam, portanto, ser apresentados junto com os artistas da América do Sul, do Japão e da Coréia, isto é, dos países que possuem uma cultura erudita e moderna. Em uma recente exposição chamada Localities of Desire, realizada no Museum of Contemporany Art de Sidney, a organizadora teve de comprovar que todos os artistas convidados estavam conscientes da realidade do museu e que sabiam qual o contexto em que suas obras seriam apresentadas. Na realidade, todos os artistas, sejam eles da Austrália, da China, da Nova Zelândia ou dos Estados Unidos, receberam uma educação tipicamente ocidental. Eles freqüentaram escolas de arte e possuíam títulos universitários. O texto de introdução do catálogo tratava de uma exposição coerente uma vez que os artistas partilhavam o mesmo conceito de espaço e de tempo. A maior parte deles pertence a minorias resistentes, mas utilizam a mesma linguagem. Portanto, estão autorizados a expor seus trabalhos juntos e a criar, em princípio, um efeito harmonioso sobre o espectador. O mesmo museu de arte contemporânea apresenta arte aborígene australiana, mas o faz em exposições ou galerias totalmente diferentes. Ele afirma que exibi-los junto com outros artistas seria adotar um `exotismo eurocêntrico´ e uma `visão romântica do outro´. Em minha opinião, sob essas sutilezas se escondem, na verdade, um medo do outro e uma incapacidade de aceitá-lo tal como ele é. A concepção das exposições nesse caso é dominada pelo princípio decorativo. Ou as obras e sua apresentação em conjuntos espaciais contribuem para criar uma totalidade harmônica e homogênea ou elas ilustram a teoria do `curador´. Nos dois casos, tudo aquilo que pareça formal ou conceitualmente impuro ou mesmo anárquico é suprimido. Minha experiência com a arte e com os artistas coloca-me em uma posição contrária a essa concepção. A arte está repleta de contradições e de paradoxos. Ela está muitas vezes ligada a um aspecto anárquico. O terceiro grupo, no qual me incluo, aceita essa realidade. É na medida em que expomos a arte de outros artistas devemos aceitar que não apenas a arte mas também as suas estruturas mentais são completamente diferentes das nossas. O encontro com essas formas artísticas pode provocar um choque, mas esse choque pode ser visto pelo espectador como um elemento positivo. O dilema continua sendo o diálogo entre a nossa arte agnóstica e a arte religiosa. O problema dos critérios não será superado enquanto permanecermos no terreno da estética. Ele se transforma numa barreira real quando confrontado do ponto de vista religioso. Uma vez estava entrevistando um erudito tibetano para saber qual era o melhor pintor de tonka que ainda vivia nos monastérios do Tibete. Ele pareceu surpreso com minha pergunta, mas em seguida respondeu-me que era o pintor que tinha a maior fé. Os próprios tibetanos afirmam que quando preparam uma mandala com pó de mármore colorido para uma cerimônia se limitam apenas a copiar um modelo. Sabemos, por outro lado, que a iconografia tibetana evoluiu com o tempo. Podemos datar as tonkas baseados em seu estilo. Existe, portanto, uma inovação, embora muito mais lenta do que no Ocidente. Será que devemos - no caso de uma arte tradicional, fundada na repetição e difícil de ser integrada aos critérios religiosos - ignorá-la enquanto estiver viva para valorizá-la quando envelhecer? É esse o verdadeiro desafio atual. Como dialogar com artistas que não possuem formação segundo os critérios da arte ocidental, e que vivem de acordo com práticas religiosas fortemente consolidadas, e que gostariam de partilhar uma parte de sua arte conosco a fim de proteger sua cultura e garantir sua sobrevivência? Pensar nossas relações com culturas religiosas implica compreender sua integridade e analisar as razões de seu sucesso assim como do insucesso da nossa crença no sentido histórico que conduziu à vitória do racionalismo e do agnosticismo. Essa nova abordagem cultural exije que reconheçamos a existência de culturas inteiras com seu próprio sistema de referência. Em arte, a questão leva a uma avaliação da relação entre forma e conteúdo, a aparência da obra, sua presença física naquilo em que ela revela sentido. De qualquer modo, ela não poderá jamais ser compreendida e sentida tal como era em seu contexto de origem. O tipo de comunicação diferenciado instaurado pelo objeto exótico pode, no entanto, contribuir muito para um (re)conhecimento recíproco. Nessa perspectiva, o foco continua centrado na estética. É uma tarefa difícil por causa da permanente interferência de diferentes sistemas estéticos, cujos níveis constituem a modernidade capaz de entender sua constante inter-relação. É essa a razão pela qual uma teoria da arte - cuja ausência tanto pesa para aqueles voltados para a ordem e para as categorias - é tão difícil de ser elaborada. Talvez esse seja um empreendimento fadado ao insucesso se levarmos em conta a falta de iluminação a gás... e a abertura a muitas possibilidades. Será que não vale mais a pena aproveitar essa liberdade em vez de queixar-se dela? Cabe a cada artista saber fixar limites que permitam um desenvolvimento coerente. Por outro lado, o discurso sobre a arte lucraria se se concentrasse nas pesquisas de antropologia visual, sem dúvida muito mais apropriadas à análise da arte contemporânea do que as inúteis críticas estéticas de gosto demasiado conjunturais. Os seis artistas escolhidos para representar a África e a Oceania não têm características comuns. Devem sua presença na exposição às suas qualidades específicas e aos diálogos que suas obras estabelecerão entre si. Bruly Bouabré, Tokoudagba e Francina Ndimande já surgiram no cenário europeu. Como suas obras começam a se tornar conhecidas e têm suscitado comentários, pareceu-me ser útil apresentá-los no Brasil. Tokoudagba e principalmente Bruly Bouabré estão entre os artistas revelados pela exposição Magiciens de la Terre, e que posteriormente tiveram seus trabalhos apresentados em exposições individuais ou coletivas com muito sucesso na Europa. Bruly Bouabré apresentou seus trabalhos em exposições individuais na Alemanha e na Suíça com grande êxito. Em seguida o artista fez um trabalho em conjunto com Alighiero e Boetti para uma exposição, por sugestão de André Magnin. Francina Ndimande é, junto com Esther Mahlangu, uma das pintoras Ndebele mais conhecidas pela incomparável força de suas decorações murais. O etíope Gedeon, no entanto, ainda é quase totalmente desconhecido. Pudemos ver algumas de suas obras pela primeira vez na exposição Le Roi Salomon et les Maîtres du Regard, magistralmente organizada por Jacques Mercier no Museu das Artes da África e da Oceania em 1992. Naquele momento ele expunha trabalhos que dialogavam com Roberto Matta. Mawandjul é conhecido há muito tempo como um dos mais talentosos artistas aborígenes australianos. O neozelandês Peter Robinson faz o papel de coringa e se inscreve no grupo como aquele que denuncia a moda da chamada arte étnica. Ele afirma ser parcialmente maori e tem feito uma Percentage painting que desmistifica com cinismo a reivindicação de pertencer a uma cultura considerada tribal. É ele quem restitui aos outros a sua integridade como artistas - se houvesse necessidade disso -, na medida em que comprova que a escolha foi feita em função de critérios estéticos e não de cor de pele. Bruly Bouabré é um ancião maravilhoso, um sábio que emana de inteligência e malícia e que sabe passar aos outros os frutos de sua experiência. Foi durante muito tempo funcionário público francês, marinheiro, catador de papéis, mas também guia dos etnólogos franceses que passavam por seu país. Tornou-se seu príncipe e através do desenho construiu uma verdadeira enciclopédia de seus conhecimentos. Escreveu muitos livros e criou um alfabeto para ser usado na África. Produziu centenas de desenhos menores que um cartão postal onde descreveu a fauna e a flora, os utensílios, as incisões médicas, as celebridades, as lendas, as marcas e a publicidade dos produtos, os signos das águas das savanas e das formas passageiras das nuvens. Cada desenho é cercado por uma lenda, muitas vezes coloridas por uma veia maliciosa que tenta restituir à cultura africana sua justa dimensão. Ele se apropria do dogma ocidental que quer que todos os fenômenos sejam explicados e o conduz ao sabor de sua imaginação poética. Funcionário do Museu de Abomey, cidade dos antigos reis do Daomé, Cyprien Tokoudagba participa da restauração das esculturas dos antigos palácios da cidade. Sua carreira artística começou depois de uma encomenda para decorar um templo vodu. Essas primeiras tarefas confirmaram rapidamente seu talento, e hoje ele é constantemente solicitado para realizar pinturas e esculturas nos numerosos templos vodus no Benin. Esse itinerário vodu impregnou a arte de Tokoudagba, que começou por esgotar essa temática (a representação das principais divindades vodus) para em seguida criar livremente seus próprios signos e figuras, que são facilmente reconhecidos: simplicidade de traços, cores fortes circuladas com preto, fortes sombras negras e justaposição de figuras sobre fundo branco. No início limitada às paredes dos santuários vodus, sua pintura passou para as telas em 1989. Para as esculturas de grandes dimensões, ele retomou as velhas tradições de modelagem com terra, à qual ele mistura cimento em proporções cada vez maiores. Ele também cria figuras pequenas e simples de terracota destinadas ao uso cotidiano. |
| |||||||
| A forte carga simbólica, mesmo que não possa ser interpetada detalhadamente pelos não iniciados, assim como o volume das figuras conferem às suas pinturas uma presença incomum. Gedeon é ao mesmo tempo um poeta apaixonado pela retórica e um praticante da medicina tradicional. Seus extensos estudos feitos ao longo de uma vida atribulada levaram-no a conhecer os segredos da pintura talismânica. Ele os utiliza, chamando-os de `estudos e pesquisas´. Tradicionalmente, essas pinturas eram feitas para um paciente para o qual ele oferecia um desenho colorido que correspondia à doença diagnosticada. O doente fornecia as informações sobre a doença, os locais e as visões que precederam o seu surgimento. O `médico´ passa para o papel, então, os signos mágicos: a Rede de Salomão, os Selos, a cruz e as muralhas. Ele os dispõe em um espectro denso e intrincado. Os traços duplos coloridos aumentam a tensão dos motivos entrelaçados que representam o conflito entre as forças do Bem e do Mal. A contemplação do desenho ajuda o doente a reencontrar seu equilíbrio. Francina Ndimande pertence à comunidade dos Ndebele. Ela mora em Weltevreden, ao norte de Johannesburgo. Ela desenvolveu, junto com outras mulheres, um estilo de pintura decorativa para os muros de sua casa. Seu trabalho ficou conhecido tão rapidamente que ela já fez escola. Depois de ter pintado o lado externo e interno de sua própria casa, ela recebeu numerosas encomendas, entre as quais a igreja de seu povoado e o palácio do rei David Mabusa Mabhako. Seu estilo caracteriza-se por formas geométricas com cores vivas e chapadas sobre um fundo branco. Os desenhos de formas arredondadas, particularmente os pequenos aventais usados pelas mulheres, serviram de modelo. A estrutura arredondada dos trabalhos impõe a geometrização das formas. Muitas vezes podemos reconhecer os motivos: casas, lâmpadas, giletes etc., fortemente estilizados para participar do plano formal que se estende sobre as superfícies da arquitetura. Antes feita de terra e pigmentos naturais, hoje sua tinta é industrial. Ela tem a vantagem de ser mais durável e de ter maior liberdade cromática. Muitas vezes injustamente acusada de ser um fenomêno turístico (característica que não se observa em seus trabalhos), a arte de Francina Ndimande é, ao contrário, um exemplo perfeito do desenvolvimento recente de uma cultura tradicional. Ela é motivo de orgulho comunitário e mesmo de resistência à opressão da política do apartheid exercida pelos africânderers. John Mawandjul é um dos pintores aborígenes mais refinados da Austrália. Ele vive perto de Maningrida, nos territórios do norte. Sua técnica utiliza traços cruzados que formam uma trama de quadrados. Esse tipo de desenho é comum em sua região. Em alguns casos, esses desenhos, com características específicas, podem se tornar a marca de um clã, uma espécie de brasão. Mawandjul serve-se deles com liberdade, sofisticação e precisão. Ele pinta grandes imagens de animais - às vezes figuras fantásticas - sobre grandes lascas de cascas de árvores, que dobram sobre si mesmas e se comprimem para ficar dentro dos limites do suporte que as apóiam. Os animais constantemente dão a impressão de um gigantismo assustador. Contrariamente aos artistas do centro do país, que trabalham a partir de pontos de pintura acrílica sobre tela, Mawandjul continuou fiel aos pigmentos naturais sobre madeira. A paleta restrita vai do branco ao marrom passando por diferentes tons de ocre e vermelho dá grande coerência às suas composições. A madeira é apoiada em cima e embaixo por dois bastões para manter a superfície quase plana. No entanto, as cascas das árvores dobram-se com o tempo. A envergadura do suporte, que não pode ser medida por esquadros, e os pigmentos naturais conferem a essas pinturas uma característica própria, ausente nas pinturas de Papunya, que se adequam excessivamente às exigências ocidentais. Acrílico e tela: "o meio é a mensagem". Não causa estranheza constatar que as pinturas sobre tela sejam negociadas mais facilmente no mercado ocidental. Sensibilizar-se diante da qualidade dos materiais de Mawandjul não implica fazer parte de uma nostalgia primitivista. É, antes de mais nada, aceitar que pode haver arte em qualquer tipo de material. Além do mais, a pintura sobre cascas de árvores não é, como poderíamos crer, uma técnica secular. Aplicada anteriormente sobre o corpo ou feitas em pedras, ela obteve sucesso sob o estímulo de missionários que tentavam comercializar produtos artesanais.Peter Robinson pertence à aquela categoria de artistas que levantam questões fundamentais. O questionamento estende-se por tudo, por suas origens, suas raízes, nosso meio ambiente e a maneira de lidar artisticamente com ele. No início o artista buscou a linguagem maori em função de um parente indígena de seis gerações passadas que pertencia uma tribo de South Island, e em seguida rapidamente rebelou-se contra a cômoda posição advinda dessa legitimação. A Percentage painting estabeleceu por meio de um cálculo `científico´ que ele ainda tinha 3, 125% de sangue maori. A chamada arte `étnica´ está em moda. Ele alegra-se quando artistas o denunciam, e o que é ainda melhor, com grande dose de humor. Muitas de suas pinturas parodiam a sociedade de consumo - da qual os maori participam ativamente - que se traduzem, por exemplo, em um carrinho repleto de pequenos cartazes e de placas anunciando liquidações incríveis, presentes para todos os gostos, saldos e peças de segunda mão vendidas por preços irrisórios. Os objetos-fetiches de nosso tempo, o carro e o avião, que às vezes surgem de forma agressiva (charrete ou submarino), são peças centrais em suas imagens. Ele os trata com a seriedade e a desenvoltura de um criador que quer deixar para trás sua bagagem cultural e ver o mundo com olhos novos e vigorosos. E essa postura remete-nos à herança maori para alcançar uma espécie de primitivismo pós-colonial. Aspirar a esse paradoxo certamente não é uma das menores preocupações do mundo artístico atualmente. Capa | Universalis | Salas especiais | Representações Nacionais |      |