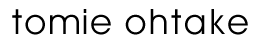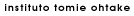Por Fernando Cocchiaralle
Como se articulam as esculturas inéditas de Tomie Ohtake com o conjunto predominantemente pictórico de sua obra? De que lugar brotam estas linhas de ferro, estes quase desenhos que se movimentam no espaço? Onde situá-las em um mundo organizado pela cor, no qual a força do traço parece ausente?
As indagações procedem uma vez que as características espaciais da extensa produção da artista, inclusive as da gravura e escultura, vêm sendo interpretadas freqüentemente a partir da cor e da forma, como se a linha, fundamental nas composições figurativas e abstratas iniciais, tivesse sido definitivamente sepultada, em conseqüência de sua superação na pintura de Tomie, a partir de 1958. Se a integridade pictórica, uma vez atingida, não mais comportaria o recurso ao grafismo, o elemento gráfico, em princípio estranho às questões estritamente pictóricas, não tem sido, desde então, considerado por estas leituras. Talvez porque, detendo-se exclusivamente na pintura, predominante na prática artística de Ohtake, partam da suposição de que o sentido de uma obra deva ser encontrado na coerência linear do processo criativo.
Entretanto, a linha continua desempenhando um papel de destaque sempre que a artista intervém diretamente no espaço real, tanto nas obras de integração arquitetônica e cenografia quanto nas esculturas mostradas nesta Bienal.
A ênfase na coerência do processo criativo seria, sobretudo, uma exigência de ordem suscitada pelo discurso da crítica e não pelo fluxo de produção das obras. Citada por muitos como qualidade específica da produção de Ohtake, esta ênfase termina por surtir um efeito inverso ao pretendido, pois, ao invés de caracterizar seu trabalho, mantém-no naquela generalidade comum à toda criação, posto que o processo é sempre significativo e esclarecedor do desenvolvimento da obra de qualquer artista.
Restaria saber se o sentido específico das produções artísticas pode ser instaurado pela idéia de coerência, de linearidade, ou se esta deve dar lugar a uma outra concepção de ordem, de tipo constelar, na qual seria possível supor que fragmentos do passado de uma obra podem cruzá-la, como cometas, reaparecendo mesmo depois de longo hiato. Seria também importante averiguar em que medida um processo de produção que se dá individualmente, como o da obra de arte, torna-se relevante não apenas para quem a realizou, mas para uma coletividade, uma cultura e a história da arte de um país.
Em 1961, Mário Pedrosa, no texto Tomie Ohtake: Entre a Personalidade e o Pintor (1), observava: "...Nela o que interessa é a captação da idéia, isto é, o motivo ou a razão da obra pictórica. Ela é, com efeito, desses pintores que lêem o quadro a posteriori e o julgarão em conseqüência dessa leitura, desse diálogo com ele. Não basta pintá-lo, é preciso deixar que o quadro feito seja obra, a obra se torne obra, no sentido heideggeriano, ou volte ao que a fez, como o espelho quando nos devolve a própria imagem. Esse processo de vir a conhecer a própria obra se passa na contemplação, pois nesta é que a obra se dá 'em seu ser criatura, como real - quer dizer - ela se faz presente com seu caráter de obra' (Heidegger)".
Mário Pedrosa faz um diagnóstico preciso do processo individual de Tomie e do caráter contemplativo da relação entre a artista e sua pintura, lembrando-nos também, indiretamente, ao mencionar que ela é "desses pintores que lêem o quadro a posteriori", o modo pelo qual a então nascente pintura de Ohtake inscreveu-se, nos anos 50, em questões cruciais para os desdobramentos futuros da produção artística brasileira, vinculando seu trabalho, desde a origem, a um momento de renovação cultural sem precedentes históricos em nosso país.
A polêmica entre as diversas tendências do Abstracionismo passava pela explicitação das diferentes maneiras que os artistas tinham de conceber e produzir suas obras. Neste contexto, informar ao público sobre o modo pelo qual trabalhavam tornou-se essencial à estratégia do texto crítico. Isto é, para a crítica e os leitores não era indiferente se a obra fora projetada racionalmente, a priori, caso do Concretismo, ou se o artista a deixava gerar-se na produção, avaliando-a durante e após a fatura, portanto, a posteriori, como no Informalismo, pois apontavam para algo além de simples diferenças de temperamento manifestando, desde a gênese da criação, questões estéticas e éticas muito mais abrangentes.
Momento em que, muitos abstracionistas, voltavam-se para o Oriente em busca de uma tradição - a da caligrafia - que desse sentido perene à instantaneidade do gesto, é possível que a origem japonesa de Tomie a tenha predisposto a uma escolha. A introspecção contemplativa e seu intuitivo processo de trabalho levaram-na, ainda em 1954, quando tinha somente dois anos de produção sistemática, a abandonar a representação e iniciar-se na abstração informal, tornando-se uma de suas pioneiras. De qualquer modo, a pintura dessa artista brasileira jamais incorporou o gesto caligráfico à ordem espacial de sua obra, a exemplo do que fizeram outros abstratos de procedência japonesa. Da tradição caligráfica restou, contudo, na obra de Tomie, a potência do traço, da linha, ainda que esvaziada da expressividade gestual.
O Informalismo procurava instaurar processos de comunicação fundados na intersubjetividade, ressaltando o caráter individual da criação artística e de sua fruição. "A subjetividade, aliás, é uma espécie de fundamento da relação entre artista e público, pois se deixa a este último toda liberdade de situar os planos do quadro a não importa qual lugar da terceira dimensão do espaço pictural, tornando-o um co-autor da obra. Por isso mesmo, a percepção de planos em profundidade e o uso livre de tons não significam, para o Abstracionismo, uma regressão aos princípios da racionalidade renascentista (tal como o acusavam os concretos e neoconcretos), pois a ruptura, no caso, se dá entre subjetividade e razão" (2). Essa atitude de implicações não só estéticas, mas também ético-políticas, configurava no Brasil da década de 50 uma silenciosa alternativa para a impessoal objetividade do mundo da indústria, no qual o país recém-ingressara, e seu correspondente no campo da arte, o Concretismo, que preconizava a interobjetividade, ou seja, a comunicação racionalmente definida entre Sujeitos e uma racionalidade distinta daquela proposta pela arte da Renascença.
"Em comparação com o Concretismo e, secundariamente, com o Neoconcretismo, que negava seu caráter de grupo, apesar de ter lançado um manifesto e produzido vários documentos, os artistas informais no Brasil, como europeus e americanos, nunca atuaram em bloco, sendo avessos a tendências grupais e a noções de disciplina ditadas de fora da experiência individual. Os contatos que mantinham entre eles e com artistas de outras tendências, sempre individualizados, dificultavam a manifestação pública de suas divergências internas. Embora muitos artistas informais, como Fayga Ostrower, tivessem preocupações intelectuais inegáveis, estas decorriam em primeiro lugar de questões colocadas por seu trabalho e não de exigências teóricas coletivas. O Informalismo não produziu discursos de grupo porque a questão da liberdade ocupa um lugar central em sua ação. Sistematizá-las em princípios seria, portanto, profundamente contraditório. Por isso, as razões teóricas que acionam as críticas concretistas tanto ao Neoconcretismo quanto ao Informalismo, não encontram, no caso deste último, um interlocutor organizado, atomizando-se sem endereço certo na independência individual dos artistas abstratos. Numa certa medida, a ausência de documentação textual é a causa da dificuldade de situarmos o Informalismo no debate da época, que opõe os movimentos da tendência geométrica à pluralidade abstrata. Todo esforço de sistematização do Abstracionismo Informal esbarra nestes limites: se os informais pouco ou quase nada escreveram sobre suas idéias, por outro lado a crítica de arte mais atuante no país tendia a apoiar a vertente geométrica, avaliando, por isso mesmo, as questões do Informalismo por parâmetros construtivistas. (...) As críticas ao Informalismo no Brasil intensificam-se na segunda metade da década de 50, quando o Tachismo europeu ganha evidência nas Bienais de São Paulo. Considerando-o um modismo internacional, artistas e críticos favoráveis ao geometrismo tendem a reduzi-lo apenas às manifestações tachistas. (...) A redução, contudo, prestava-se à estratégia da posição geométrica na polêmica, porque lhe permitia opor ao caos imputado ao Informalismo a vontade de ordem da tendência construtiva" (3). Especialmente no momento em que sua hegemonia no país via-se ameaçada pela voga tachista revelada pela IV Bienal Internacional de São Paulo.
O que estava em questão, porém, eram duas noções radicalmente diversas de ordem. Aquela, evidente, baseada em um projeto espacial fundado na geometria (o Concretismo e o caso, particularíssimo, do Neoconcretismo avesso à exacerbação racionalista do primeiro) e a do Informalismo, fundada no processo de execução da obra.
Nesta conjuntura, a observação de Pedrosa sobre o método de trabalho de Tomie Ohtake adquire uma significação que excede, em muito, os limites estritamente individuais nos quais nossa compreensão atual tenderia a confiná-la. Assim como a maioria dos artistas informais brasileiros, Tomie jamais deixou de considerar a importância da ordem espacial de seu trabalho.
A estruturação das obras desta artista, desde as primeiras paisagens até as abstrações de 1957, se dá, principalmente, por meio de um elemento muito próprio, a linha gráfico-pictórica. Neste ano, a propósito da exposição de suas telas abstratas no Museu de Arte Moderna de São Paulo, Geraldo Ferraz comenta que "...a pintura de Tomie Ohtake predispõe imediatamente o observador a uma consideração analítica mais atenta. E a surpresa é boa quando essas telas resistem, como composição, como estruturação de um espaço, pela sua íntima força de linhas concentradas, com um objetivo bem definido na ocupação e na organização que lhes é inerente" (4).
A importância da linha tem origem nas paisagens da artista, em que desempenhava uma função essencial na sugestão de profundidade. Nelas, o espaço, seja pela falta de uma formação acadêmica ou por uma opção modernizante, não resultava do uso da perspectiva, tão cara ao Ocidente, mas da superposição de planos. Estes tampouco eram tratados como na tradição oriental, que os distribuía em camadas sucessivas, da base para o alto do suporte, talvez porque a pincelada espessa não permitisse o jogo de transparências e aguadas necessário à representação da distância, conforme aquela tradição, apesar da origem japonesa de Tomie.
Daí decorria o recurso ao elemento gráfico, fundamental para a ordem espacial destes trabalhos e indispensável para estruturar o primeiro plano que ocupa toda a superfície do quadro. Nas paisagens o primeiro plano era graficamente construído pela presença linear de árvores retorcidas que cortam verticalmente a tela de alto a baixo. A linha é pois, nessas pinturas, antes de tudo, uma grade que organiza a composição, permitindo, simultaneamente, a visão dos planos cromáticos situados atrás dela.
A partir de 1954 sua pintura torna-se abstrata, mas a superfície da tela continua sendo organizada pela forte presença de grafismos negros, herdados das paisagens, que se impõem ao olhar desde o primeiro plano do trabalho.
Toda a produção pictórica de Tomie Ohtake, pelo menos nas obras produzidas até 1957, tem o espaço estruturado pela linha. A malha gráfica do primeiro plano da tela, por ser a última parte pintada do quadro, é a primeira a ser vista quando o observamos, fazendo com que o olhar do espectador siga um caminho inverso ao da fatura. Dessa data em diante, porém, a linha negra que estruturava o espaço dá lugar a composições mais complexas em que esta perde progressivamente a função que possuía. Doravante, a estrutura e a forma derivarão, principalmente de relações cromáticas. Ausente da pintura, a linha reaparece estruturando o espaço, sobretudo quando a artista trabalha na tridimensionalidade.
O cenário da ópera Madame Butterfly, apresentada em 1983 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é crucial para a compreensão do caráter gráfico das esculturas recentes de Ohtake, pois estabelece a conexão constelar entre as paisagens e as abstrações da década de 50 e o espaço agora criado pelas linhas de ferro retorcido, expostas nesta Bienal.
Delimitado pelo palco italiano, o espaço cênico tradicional é simultaneamente quadro (aproximando-se, nesse sentido, do plano em perspectiva característico da janela renascentista) a ser visto de fora para dentro pelo público e espaço tridimensional, onde se movimentam os atores do espetáculo.
O desafio dessa experiência cenográfica colocou a artista diante de questões similares às da pintora iniciante, nas paisagens de 1952, e face aos problemas suscitados, posteriormente, pelas esculturas, à artista madura e experiente. Tal como no passado, mas respaldada no conhecimento adquirido por força de anos de trabalho, ela não poderia ceder às limitações tradicionais desse tipo de espaço cênico. Retoma, pois, em novas bases, a superposição de planos e o valor estrutural da linha de outrora, incorporando à malha gráfica a força cromática de sua longa trajetória de pintora.
O elemento gráfico na poética de Tomie não deve, portanto, ser visto em sentido estrito, tal como o que habitualmente opõe o desenho (linha) à pintura (cor). É antes uma maneira de estruturar a profundidade do espaço por barras e faixas, negras ou profusamente coloridas, mas também em linhas, de modo a permitir ao olhar trespassá-lo, a deixar-nos ver o que está atrás do primeiro plano.
No espaço em perspectiva da tradição renascentista, a representação da profundidade remete o olhar à linha do horizonte, à distância máxima que possa alcançar, através dos pontos de fuga, deixando livre, dentro do possível, o primeiro plano. Racionalmente projetado pelo artista, este tipo de espaço pretende que o público se situe no ponto de vista de um observador objetivo. De fora da 'janela', o fruidor é convocado a olhar para o mundo, representado no quadro, com a clareza e a objetividade proporcionadas pelas obras da inteligência. A presença mínima de intermediários, entre o espectador e o horizonte da paisagem, não deixa dúvidas a respeito de uma alteridade sequer semelhante àquela fundadora do conhecimento: um Sujeito e um Objeto, instituídos pela razão.
Quando a perspectiva é abandonada, a situação se inverte e o primeiro plano da tela passa a ser fundamental para a representação da distância, relegando a linha do horizonte a uma situação secundária e até dispensável. Neste caso, o uso da linha, como uma malha que constrói o espaço desde a superfície, torna-se um recurso indispensável para a sugestão de profundidade. O espectador assume aqui o papel de observador oculto. Vê não mais um mundo preparado para a ação, livre espaço construído pela perspectiva, mas o percebe pela trama do primeiro plano do quadro, que marca a diferença de dois espaços: aquele antes da malha (espaço real), onde se oculta o observador (artista e público) e o do mundo sugerido na tela a partir do plano inicial. A alteridade do artista, do fruidor e da obra, no caso, se dá subjetivamente, de modo interiorizado, contemplativo.
Paradoxalmente, encontramos na obra de Rafael, um dos mestres do Renascimento e da perspectiva, um exemplo de representação fundado na valorização do primeiro plano e não na linha do horizonte. Trata-se do afresco Libertação de S. Pedro da Prisão, pintado entre 1512 e 1513, no qual a grade negra da cela mobiliza integralmente a superfície da área central da pintura.
O espaço cênico e o pictórico possuem alguns limites semelhantes. Enquadrados pelo retângulo da boca de cena e o suporte, determinam sempre a exterioridade do espectador em relação à obra. Mesmo se olhados de um ponto de vista não frontal, estes espaços são penetráveis somente pela visão, nunca integralmente. Nesse sentido, quando estruturados não em profundidade, mas pelo primeiro plano, como no caso da malha gráfica predominante em momentos recorrentes da obra de Tomie, revelam ao fruidor mais atento sua natureza impenetrável.
O espaço criado pelas esculturas atuais é totalmente diverso. Soltas na sala de exposição, dispostas em diferentes alturas, as peças funcionam a partir da cambiante relação entre o olhar do fruidor, o movimento de seu corpo, dos outros corpos e das esculturas. Como fragmentos rompidos da malha gráfica, que organizava o plano pictórico e a cena italiana, as linhas brancas de ferro pintado permitem a penetração e a circulação do público. A espacialidade produzida por linhas pendentes do teto ou fragilmente equilibradas no solo e na parede, grafismos móveis, não é absoluta; integra-se ao movimento do público incorporando-o ética e esteticamente à obra. Entre elas, a contemplação permitida pela alteridade existente entre o fruidor e o espaço pictórico tradicional desfaz-se na relatividade dos papéis. Interceptado pelas esculturas o corpo do fruidor torna-se simultaneamente obra (os outros) e ponto de vista (o olhar circulante de cada um). A ausência de cor nas esculturas desloca o controle cromático, fundamental nas telas de Tomie, para a mutante combinação em processo das cores portadas pelo público que circula na exposição. A sala transforma-se, então, em uma pintura estruturada pela constante presença das linhas de ferro que aguardam o cromatismo aleatório do corpo fruidor que o espaço assimila.
| | |
| CurrículoNasceu em Kyoto Japão, em 1913. Veio para o Brasil em 1936 e é cidadã brasileira naturalizada. Vive e trabalha em São Paulo.
Exposicões individuais
1995
Americas Society, Nova York, Estados Unidos; Museum of Organization of American States, Washington, DC, Estados Unidos; Estação Cultural Morro da Vargem, Espírito Santo, Brasil; Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil.
1994
New Paintings, Concourse Gallery, Barbican Center, Londres, Inglaterra; Gravuras, Espaço Cultural Catuaí, Londrina, Brasil; Gravuras, Instituto Cultural Villa Maurina, Rio de Janeiro, Brasil; Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, Brasil; Bass Museum of Art, Miami, Estados Unidos.
1993
Novas Pinturas, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil; Novas Gravuras, simultaneamente em doze cidades: Mônica Filgueiras Galeria de Arte, São Paulo; Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre; Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba; Museu de Arte de Ribeirão Preto; Croqui Galeria de Arte, Campinas; Gesto Gráfico, Belo Horizonte; Pinacoteca Galeria de Arte, Goiânia; Artespaço, Recife; Caesar Park Hotel, Fortaleza; Escritório de Arte da Bahia, Salvador; Senado Federal - Salão Negro, Brasília.
1991
Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo, Brasil; Thomas Cohn Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brasil; Palácio Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, Brasília, Brasil.
1987
Thomas Cohn Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brasil; gravuras simultaneamente em dez capitais brasileiras: Galeria Mônica Filgueiras de Almeida, São Paulo; Galeria Tina Presser, Porto Alegre; Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba; ACAP - Casa da Alfândega, Florianópolis; Galeria GB, Rio de Janeiro; Gesto Gráfico, Belo Horizonte; Galeria de Arte Ignês Fiúza, Fortaleza; Artespaço, Recife; Escritório de Arte da Bahia, Salvador; Espaço Capital Arte Contemporânea, Brasília.
1985
Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo, Brasil.
1984
Paulo Figueiredo Galeria de Arte, Brasília, Brasil.
1980
Galeria 9, Lima, Peru.
1979
Galeria Grifo, São Paulo, Brasil.
1976
Centro Cultural Ítalo-Brasileiro, Milão, Itália; Galeria Graffiti, Rio de Janeiro, Brasil; The Brazilian-American Cultural Institute, Washington, DC, Estados Unidos.
1975
Galeria da Embaixada do Brasil, Roma, Itália.
1974
Galeria de Arte Global, São Paulo, Brasil.
1972
Litografias, Galeria Cosme Velho, São Paulo, Brasil.
1971
Universidade Federal de Porto Rico, Campus de Mayaguez, Porto Rico.
1969
Serigrafias, Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil; Petite Galerie, Rio de Janeiro, Brasil.
1968
Galeria Cosme Velho, São Paulo, Brasil; Pan American Union, Washington, DC, Estados Unidos; Brazilian Government Trade Bureau, Nova York, Estados Unidos.
1964
Galeria São Luiz, São Paulo, Brasil.
1959
Galeria de Arte das Folhas, São Paulo, Brasil.
1957
Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil; Grêmio Bela Bartok, Seminários Livres de Música Pró-Arte, São Paulo, Brasil.
Exposições coletivas
1993
Coleção Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil; Panorama da Arte Atual Brasileira, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil; Brazil Ultramodern, The American Museum for Women in Art, Washington DC, Estados Unidos; Eram Brasileiros os que Ficaram, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil; Athos Bulcão-Rubem Valentim-Tomie Ohtake, Centro Cultural 508, Brasília, Brasil; Tomie Ohtake-Osmar Pinheiro-Sérgio Fingermann, Centro Cultural Catuaí, Londrina, Brasil.
1992
Salão Paraense de Arte Contemporânea, Belém, Brasil.
1991
I Feira de Arte de Bogotá, Stand Galeria Montesanti, Bogotá, Colômbia; Abstracionismo Geométrico e Informal, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.
1990
Armadilhas Indígenas, Museu de Arte de São Paulo e Galeria Sérgio Milliet, Rio de Janeiro, Brasil.
1989
XX Bienal Internacional de São Paulo, Sala Especial na Seção de Teatro, São Paulo, Brasil; Exposição Histórica Pintura Abstrata Efeito Bienal 1954-1963, São Paulo, Brasil.
1988
Arte Brasileira Contemporânea, Museu Charlottenburg, Copenhague, Dinamarca.
1986
II Bienal Latino-Americana, Sala Epecial, Havana, Cuba; Bienal Latino-Americana de Arte sobre Papel, CAYC, Buenos Aires, Argentina.
1984
I Bienal Latino-Americana, Havana, Cuba.
1982
Women of the Americas, Center for Inter American Relations, Nova York, Estados Unidos.
1981
V Bienal de Arte de Medellín, Colômbia; III Bienal de Arte, La Paz, Bolívia; Arte Latino-Americana Contemporânea e o Japão, Museu Nacional de Osaka, Japão.
1980
Destaques Hilton de Pintura, Fundação Cultural do Distrito Federal, Brasília, Brasil; Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil; Museu de Arte Moderna, São Paulo, Brasil; Homenagem a Mario Pedrosa, Galeria Jean Boghici, Rio de Janeiro, Brasil.
1979
I Trienal Latino-Americana de Gravura, Buenos Aires, Argentina; Women Artists in Washington Collections, University of Maryland Art Gallery, Maryland, Estados Unidos; Panorama de Arte Atual Brasileira, Museu de Arte Moderna, São Paulo, Brasil.
1977
Arte Actual Ibero Americana, Madri, Espanha.
1976
X Salão de Arte Contemporânea de Campinas, Brasil; Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil; Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil; Fundação Cultural do Distrito Federal, Brasília; Arte Brasileira Século XX: Caminhos e Tendências, promovida pela Petite Galerie, Bolonha, Itália; Mulher na Arte: do Neo-Impressionismo até Hoje, Palácio Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, Brasil.
1975
II Bienal do Uruguai, Montevidéu, Uruguai; I Salão do Noroeste, Penápolis, Brasil.
1974
Bienal Internacional de Gravura, Museu de Arte Moderna de Kyoto e Museu de Arte Moderna de Tóquio, Japão.
1973
Salão de Arte de Piracicaba, Artista Convidada, Piracicaba, Brasil; II Salão Bunkyo, Artista Convidada, São Paulo, Brasil; XXVIII Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte, Brasil; Gravuras, The Brazilian-American Cultural Institute, Washington, DC, Estados Unidos; Japanese Artists in America, Museu de Arte Moderna de Kyoto e Museu de Arte Moderna de Tóquio, Japão; Panorama da Arte Atual Brasileira, Museu de Arte Moderna, São Paulo, Brasil.
1972
Exposição Gravura de Hoje, XI Bienalle di Venezia, Veneza, Itália; Arte/Brasil/Hoje: 50 Anos Depois, Galeria Collectio, São Paulo, Brasil.
1971
Gravura Brasileira, Lausanne, Suíça; Atenas, Grécia.
1970
II Bienal de Arte de Medellín, Colômbia; Expo 70, Osaka, Japão; Arte Brasileira Contemporânea, Milão, Itália; Panorama da Arte Atual Brasileira, Museu de Arte Moderna, São Paulo, Brasil; Resumo do Jornal do Brasil, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil; Arte Contemporânea Brasileira, Rio de Janeiro, Brasil.
1969
Salão de Arte de Jundiaí; X Salão de Arte Moderna do Paraná, Curitiba, Brasil; Arte do Brasil, exposição itinerante promovida pelo Itamaraty: Dinamarca; Finlândia; Suécia.
1968
Salão Seibi, São Paulo, Brasil; Aspectos da Pintura Brasileira, Itinerante, América Latina, promovida pelo Itamaraty.
1967
IX Bienal Internacional de São Paulo, Brasil; Internacional Art Festival, Nova York, Estados Unidos.
1966
I Bienal Nacional de Artes Plásticas, Salvador, Brasil; I Festival Americano de Pintura, Lima, Peru; III Salão de Arte Moderna do Distrito Federal, Sala Especial, Brasília, Brasil; XXI Salão Nacional de Belas Artes, Belo Horizonte, Brasil; Pan American Foundation, exposição itinerante: Estados Unidos; Amel Gallery, Nova York; Três Premissas, Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo, Brasil; Kiko Galleries, Houston, Estados Unidos.
1965
VIII Bienal Internacional de São Paulo, Brasil; I Salão Pan-Americano de Pintura, Cali, Colômbia; II Salão de Arte Moderna do Distrito Federal, Brasília, Brasil; Brazilian Art Today, Royal College of Art, exposição itinerante em dois locais: Londres e Viena; Resumo do Jornal do Brasil, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil.
1964
II Bienal Americana de Arte, Córdoba, Argentina; XIII Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil; Galeria NT, São Paulo, Brasil.
1963
VII Bienal Internacional de São Paulo, Brasil.
1962
XI Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil; XI Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil; III Salão de Arte Moderna do Paraná, Curitiba, Brasil.
1961
VI Bienal Internacional de São Paulo, Brasil; II Salão de Arte Moderna do Paraná, Brasil; XVI Salão Nacional de Arte, Belo Horizonte, Brasil; O Rosto e a Obra, Instituto Brasil-Estados Unidos, Rio de Janeiro, Brasil; Instituto de Arte Contemporâneo, Lima, Peru.
1960
IX Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil; IX Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil; Mostra Probel, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil; Contribuição da Mulher às Artes Plásticas no Brasil, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil.
1959
VIII Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil; I Salão Feminino da Colônia Japonesa, São Paulo, Brasil.
1958
VII Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil; IV Salão de Arte da Colônia Japonesa, São Paulo, Brasil; 9 Pintores de São Paulo, Galeria Antigona, Buenos Aires, Argentina.
1957
VI Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil; VI Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil; 12 Pintores Abstratos - Obra/Conceito, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil.
1956
V Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil.
1955
IV Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil.
1954
III Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil.
1953
II Salão de Arte da Colônia Japonesa, São Paulo, Brasil; Grupo Guanabara, São Paulo, Brasil.
1952
II Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, Brasil.
Exposições retrospectivas
1983
Museu de Arte de São Paulo, com 150 obras e lançamento do livro Tomie Ohtake, Editora Ex-Libris, São Paulo.
1988
Hara Museum for Contemporary Art, Tóquio, Japão.
Prêmios
1992
Salão Paraense de Arte Contemporânea, artista convidada, Belém, Brasil.
1988
Condecoração Ordem do Rio Branco, Ministério das Relações Exteriores, Brasília, Brasil.
1987
Prêmio Mulher do Ano na Arte, Conselho Nacional de Mulheres do Brasil e Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, Brasil.
1979
Melhor Pintor do Ano, Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte, São Paulo.
1974
Melhor Pintor do Ano, Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte, São Paulo, Brasil.
1970
II Bienal de Arte de Medellín, Colômbia; Expo 70, Osaka, Japão; Arte Brasileira Contemporânea, Milão, Itália; Panorama da Arte Atual Brasileira, Museu de Arte Moderna, São Paulo, Brasil; Resumo do Jornal do Brasil, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil; Arte Contemporânea Brasileira, promovida pelo Banco de Boston, Prêmio de Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brasil.
1969
Salão de Arte de Jundiaí, Primeiro Prêmio de Gravura, Jundiaí, Brasil.
1968
Salão Seibi, Grande Medalha de Ouro, São Paulo, Brasil.
1967
IX Bienal Internacional de São Paulo, Prêmio Itamaraty, São Paulo, Brasil; Internacional Art Festival, Nova York, Estados Unidos.
1965
XXI Salão Nacional de Belas Artes, Primeiro Prêmio de Pintura, Belo Horizonte, Brasil.
1961
VI Bienal Internacional de São Paulo, Brasil; II Salão de Arte Moderna do Paraná, Grande Prêmio, Curitiba, Brasil; XI Salão Paulista de Arte Moderna, Grande Medalha de Ouro, São Paulo, Brasil; III Salão de Arte Moderna do Paraná, prêmio de aquisição, Curitiba, Brasil.
1960
Mostra Probel, Prêmio Probel, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil; IX Salão Nacional de Arte Moderna, Certificado de Isenção de Júri, Rio de Janeiro, Brasil.
1959
Prêmio Leirner de Arte Contemporânea, Galeria de Arte das Folhas São Paulo, Brasil; VIII Salão Paulista de Arte Moderna, Pequena Medalha de Ouro, São Paulo, Brasil; I Salão Feminino da Colônia Japonesa, primeiro prêmio, São Paulo, Brasil.
1958
IV Salão de Arte da Colônia Japonesa, prêmio de aquisição, São Paulo, Brasil.
1957
VI Salão Paulista de Arte Moderna, medalha de bronze, São Paulo, Brasil.
1953
II Salão de Arte da Colônia Japonesa, menção honrosa, São Paulo, Brasil.
Obras públicas
1996
Nova concepção para o teto da cúpula do Teatro Pedro II, em/in Ribeirão Preto, com 20 m de comprimento, projeto de restauração de Helena Saia, para a prefeitura de Ribeirão Preto.
1994
Painel em pastilha vitrificada no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo.
1992
Painel em pastilha vitrificada, Escola Maria Imaculada, São Paulo, patrocinado pela Tunibra.
1991
As Quatro Estações, conjunto de 4 painéis em pastilha vitrificada na Estação Consolação do Metrô de São Paulocada painel com 2 x 12 m.
1990
Painel, com 40 metros de altura, na fachada do edifício Tomie Ohtake, arquitetura de Ruy Ohtake , realização Encol, Vila Nova Conceição, São Paulo, Brasil.
1988
Escultura, com 25 m de comprimento, comemorativa dos 80 anos de imigração japonesa na Avenida 23 de Maio, São Paulo, Brasil, patrocinada e executada pela Método Engenharia; Painel em tapeçaria, com 70 metros de comprimento, interior do Memorial da América Latina, São Paulo, Brasil.
1985
Escultura flutuante, com 20 metros de diâmetro e 17 toneladas, para a Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, patrocinada e executada pela Ishikawajima do Brasil.
1984
Painel, com 1400 m2, na fachada de edifício na Ladeira da Memória, São Paulo, patrocinado pelo Banco Nacional.
1983
Escultura para o Jardim da Paulo Figueiredo Galeria de Arte, São Paulo, Brasil.
1978
Painel, em óleo sobre tela, para o restaurante Viking, Maksoud Plaza Hotel, São Paulo, Brasil.
1977
Painel pintado e com chapas de ferro pintadas, com 2 x 3 m, no escritório da Comind Seguradora, São Paulo. Atualmente está com o Banco Iochpe.
1971
Painel pintado, com 9 x 2,20 m, no escritório de Transportes Aéreos Portugueses TAP, Rio de Janeiro, Brasil.
Artes cênicas
1994
Ópera-Mundi, figurino-escultura de um personagem na encenação realizada ao ar livre no Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil.
1989
Um Baile de Máscaras, 70 máscaras para ópera, Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Teatro Municipal de São Paulo, Brasil.
1984
Madame Butterfly, reencenação da ópera, Teatro Municipal de São Paulo, Brasil.
1983
Madame Butterfly, cenário para ópera, Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Sobre Tomie Ohtake
1994
Novas Pinturas, vídeo, direção de Malu de Martino, 10 min.
1992
4 Estações, vídeo, direção de Luci Livia Pineda Barreira, 8 m; Tomie Ohtake, documentário, direção de Vera Roquete Pinto, 30 min, TV Cultura, São Paulo, Brasil.
1988
Retrato de Tomie, vídeo, direção de Walter Salles Jr., 18 min.
1987
Ver Tomie, curta-metragem, direção de Olivio Tavares de Araújo, 35 mm, 20 min, São Paulo, Brasil.
1983
Tomie Ohtake, livro de Casimiro Xavier de Mendonça, introdução de Pietro Maria Bardi, Editora Ex-Libris, São Paulo, Brasil.
Colaboradores na execução
Fase de projeto e pré-execução
Jorge Utsunomiya
Vera Fujisaki
Fase de execução
Garra Metalúrgica Ltda.
Otavio Luiz Venturoli Filho, presidente
Ermantino de Paiva (Mestre Paiva)
Francisco Augusto Agueda
A morte de Mestre Paiva em 25 de agosto de 1996 levou a artista a homenagear seu motivado e talentuoso artesão. | |
|







|